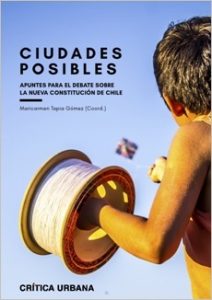Por Eveline Algebaile, Floriano José Godinho de Oliveira
CRÍTICA URBANA N.5
A discussão sobre o legal e o legítimo no âmbito de uma política estatal específica, ou de um conjunto variado de políticas que se interligam, pode partir de uma compreensão esquemática de que as noções de legal e legítimo assinalam planos diferenciados de reconhecimento de expectativas e prerrogativas. Por essa perspectiva, o legal designaria as expectativas e prerrogativas juridicamente reconhecidas, enquanto o legítimo assinalaria a conformidade entre a lei e o reconhecimento social de sua validade e, por conseguinte, sua autoridade em certo contexto.
Legalidade e legitimidade, porém, não são noções estáticas.
Primeiro, porque a questão da legitimidade pode se manter acesa no julgamento daquilo que, mesmo tornado legal, continua existindo como objeto de relativo litígio ou dissonância nas relações sociais. E a persistência de disputas em torno de uma disposição legal possibilita que o reconhecimento social de sua validade incorpore novos fundamentos, alterando seus sentidos originais.
Segundo, porque parte da validade e consequente força impositiva de uma lei pode resultar exatamente da construção – autêntica ou artificial – do consentimento social de suas disposições. Por exemplo, uma disposição jurídica que privilegia uma expectativa cujo reconhecimento impede o exercício de outras, tão ou mais socialmente válidas, pode obter suficiente consentimento social por meio da construção artificial de uma opinião pública favorável, fazendo-a figurar como plenamente legítima.
Por fim, é também importante considerar a própria ampliação histórica dos sentidos atribuídos ao termo legitimidade, em decorrência de lutas sociais pelo reconhecimento de novos sujeitos e noções de direitos. Neste caso, mais que designar uma relação de conformidade entre a lei e a sua pertinência social, o termo pode ressaltar exatamente a existência de valores e prerrogativas que não dependem, ou não deveriam depender, de formalização legal para serem respeitados. Note-se que, neste caso, ocorre uma importante inversão de peso e posição dos termos na relação legalidade-legitimidade. A legitimidade passa a preceder e, de certo modo, até mesmo a não depender da legalidade para referir o que é socialmente pertinente.
Frente a essas ponderações, entendemos que o ponto de partida mais adequado para tratar do legal e do legítimo no debate da questão urbana é aquele que considera as formas concretas de expressão das noções de legalidade e legitimidade na prática social real, considerando suas variações de sentido, suas correlações reais, suas composições e colisões.
Isto implica reconhecer que, em muitos casos, a lei expressa, sem muitas mediações, concepções que não levam em conta até mesmo expectativas sociais significativamente reconhecidas no debate das questões da vida pública. Implica também considerar que as concepções, disposições e regras expressas nas leis podem inúmeras vezes, representar o reconhecimento jurídico de expectativas sociais legítimas, sem que sejam produzidas as alterações das condições institucionais necessárias ao atendimento concreto e regular das expectativas convertidas em prerrogativas ou direitos, constituindo-se com isto uma situação jurídica em flagrante dissonância com as condições objetivas e subjetivas sem as quais a lei não existe de fato.
Neste breve artigo, procuramos abordar aspectos da produção histórica da gestão territorial que dão particular visibilidade às dissonâncias e tensões entre o legal, o legítimo, o técnico e o institucional no presente, contribuindo, de algum modo, para a identificação e o enfrentamento dos desafios acadêmicos, profissionais e políticos que se apresentam em um contexto como o atual, de claro risco de perda de direitos humanos e sociais que foram objeto de longas e importantes lutas históricas.

Estado e gestão da população e do território em perspectiva histórica
Historicamente, a gestão territorial, antes de se tornar um setor de ação governamental, constituiu-se como uma função geral estruturante do Estado, cujo exercício foi implicando a constituição de uma espécie de campo aberto, formado a partir de conjuntos complexos de práticas políticas e econômicas, disposições jurídicas e ações institucionalizadas que determinavam múltiplos aspectos do espaço social em produção. Essas práticas, disposições e ações não ocorriam de forma isolada, nem incidiam umas sobre as outras segundo relações unidirecionais de causa e efeito. Na verdade, práticas econômicas, políticas, institucionais e jurídicas iam se mesclando de variadas formas, fazendo-se presentes em graus diferenciados nos processos de formulação de políticas, de normatização de usos do espaço, de controle coercitivo das formas de uso, ocupação e circulação, de administração de recursos, de produção direta de espaços funcionalmente especializados e, mais recentemente, de regulamentação de mecanismos participativos, dentre outros processos que constituem as práticas e relações reais de gestão.
Como se pode depreender de formulações clássicas como as de Max Weber, Antonio Gramsci, Norbert Elias, Fernand Braudel, Claude Raffestin e Michel Foucault, a constituição de um campo amplo de decisões e disposições sobre os territórios (que só posteriormente e parcialmente seriam identificadas como “gestão territorial”) se confunde com o próprio processo de formação do Estado, particularmente o Estado moderno. Essa formação está claramente referida a processos de unificação territorial que exigiram a produção e a atualização de mecanismos de controle populacional e de coesão social que sustentassem as regras arbitradas a respeito das relações sociais e espaciais, e promovessem sua gradual introjeção social, sob a forma de normas consentidas e valores legitimados.
A Europa medieval já apresentava uma surpreendente quantidade de problemas e disposições relacionados ao que poderíamos chamar de questões propriamente territoriais e questões com remissões territoriais. Dentre as questões propriamente territoriais, encontram-se, por exemplo, as relativas à localização dos castelos, às demarcações dos territórios dos feudos e, dentro deles, às cidades muradas. A localização dos castelos em terrenos altos garantiria certas condições de defesa, vigilância e controle do território; as demarcações de fronteiras definiriam as áreas de soberania e os limites externos, entre distintos territórios feudais; as cidades muradas definiriam limites, controles e prescrições no próprio interior do feudo.
A cidade murada foi, a rigor, uma importante tecnologia de defesa externa (a última trincheira em uma guerra entre feudos) e interna, já que o próprio muro e as demarcações do espaço interior e exterior realizavam, compulsoriamente, prescrições sobre a ocupação e o uso do espaço, incluindo atividades e fluxos de pessoas e objetos.
Estudos como os de Le Goff[1] e Castel[2] mostram que não é por acaso que os primeiros hospitais foram construídos fora dos muros das grandes cidades. Como as cidades prósperas atraíam pessoas desterradas que vagavam em busca de comida, de abrigo, de trabalho ou da possibilidade de alguma caridade, nas entradas das cidades eram feitos controles sobre quem e o que podia entrar, e um dos resultados frequentes era a interdição de entrada de pessoas doentes. Como a caridade e a filantropia eram importantes práticas de distinção social e política, além de objeto de variadas orientações das ordens religiosas, parte da caridade passa a ser feita fora dos muros e, com o tempo, a expansão desse atendimento leva à construção de estabelecimentos permanentes para sua realização. Esses estabelecimentos, por sua vez, gradativamente, também passam a participar de parte da triagem de pessoas. Com isto, indiretamente, passam a compor um complexo de práticas e disposições que definiam o que podia e o que não podia circular em cada cidade e em seu território contíguo.
No período histórico posterior, de lenta formação do Estado moderno e de seus desdobramentos em termos da formação dos estados nacionais, foi preciso mudar, ajustar, estender e reformular as regras de fronteira e as regras internas de ocupação e uso dos novos territórios em constituição. As novas demarcações territoriais, bem mais extensas, que iam sendo constituídas pela anexação de antigos feudos e de pequenas frações territoriais, nas quais haviam se consolidado diferentes povos, línguas, culturas, regras e técnicas, passam a apresentar problemas diretamente relacionados à unificação territorial que, porém, não podiam ser resolvidos por medidas propriamente territoriais.
Um exemplo importante relaciona-se à questão clássica relativa a como manter o poder em um território que, ao se tornar mais extenso, agrega grupos populacionais que têm variadas línguas e dialetos. O uso de línguas estranhas ao grupo dominante possibilita ao povo dominado constituir um circuito próprio de comunicação, que viabiliza a organização de resistências e rebeliões. Como unificar essas línguas, e todo o conjunto de códigos sociais que elas portam, dentro da nova extensão territorial do Estado nacional em formação?
Uma das mais importantes respostas históricas a essa demanda veio na forma de uma política não estritamente territorial e que, no entanto, tem impressionantes remissões e implicações territoriais: a educação escolar. Gradualmente distribuída em todo o território nacional, a escola se tornaria uma instituição de peculiar importância estratégica, entre outros motivos, porque sua forma de disseminação e presença no território possibilita uma maneira própria de disseminação da presença do Estado, criando novas formas de aproximação e reconhecimento entre a população (agora redimensionada) e o poder político institucionalizado, entre governantes e governados.
Todos os países economicamente dominantes passariam por processos similares, ainda que com variações. Além disso, os países que expandiram suas riquezas, colonizando outros povos, territórios e nações, nos continentes asiático, africano e americano, usariam as instituições clássicas do Estado (como especialmente o exército, detentor do poder de coerção garantidor do controle territorial, e o setor fazendário, responsável pela delimitação e reconhecimento da propriedade privada, pela sua taxação e pela arrecadação tributária) para realizar formas variadas de domínio e exploração da população e do território das colônias. Porém, para que o pleno domínio das colônias pudesse ser atingido e mantido, seriam necessários outros meios, para além dos diretamente coercitivos. O transplante de referências jurídicas, institucionais e práticas relativas a diferentes áreas de atuação do Estado, a regulação das atividades econômicas, o urbanismo, a educação escolar e a saúde pública, dentre outras vertentes de ação estatal, seriam progressivamente acionadas pelo Estado colonial, para propiciar a apropriação e o controle dos territórios colonizados.

Quando essas sociedades ingressam no século XX, já estava constituída (e, em alguns casos, até mesmo consolidada) parte importante do conjunto de disposições, práticas e normas nas quais é possível reconhecer funções diretas e indiretas de planejamento, ordenamento e gestão dos territórios. O Estado moderno, em seu processo de expansão e consolidação, havia se constituído como uma associação política que, dentro de determinado território[3], para além das funções coercitiva e fazendária, nos seus antigos limites, dispunha de variadíssimos meios de dominação e hegemonia. Dentre esses meios, podem ser destacados aqueles diretamente relacionados a certa exclusividade de disposição sobre o território, como as disposições sobre a constituição, os variados usos e a taxação da propriedade territorial; a ocupação territorial para fins econômicos e habitacionais; o estabelecimento de padrões e normas para a construção, incluindo normas de alinhamento urbano, zoneamentos e demarcações de áreas de ocupação especial; a produção de infraestrutura para viabilizar o acesso ou a interdição de variadas áreas; o acesso, ocupação e exploração de áreas e recursos naturais; o estabelecimento de padrões de saneamento e de despejo de dejetos; a constituição de sistemas e meios viários; a regulamentação e regulação do espaço aéreo, marítimo, fluvial e lacustre; a disposição e regras de uso de espaços e equipamentos públicos, dentre outros aspectos que incidiam de variadas formas sobre o território.
A progressiva expansão urbana e as novas necessidades de resguardar os espaços de fronteira, diante da intensificação da ocupação do espaço, das conurbações, dos fluxos e da apropriação de recursos naturais (especialmente os relacionados à produção de energia, como recursos hídricos, extração petrolífera, etc.), relacionada ao incremento e à diversificação das atividades econômicas, dentre outros aspectos, foram ampliando as necessidades de práticas específicas de planejamento, ordenamento e gestão do território. Assim, gradualmente foram sendo instituídos setores especializados do Estado para a realização sistemática de atividades de estudo, avaliação, elaboração jurídica, disposição normativa e fiscalização, dentre outras, que passaram a compor um setor estatal gradativamente entendido como de planejamento, ordenamento e gestão territorial.
A crescente institucionalização das ações explicitamente definidas como de gestão territorial, ao longo do século XX, envolvendo sua progressiva especialização científica e técnica, fez com que o termo “gestão territorial” fosse empregado, predominantemente, para designar, com maior particularidade, os processos institucionalizados de administração e controle da produção, do desenvolvimento e do uso dos territórios. Esse emprego predominante se manteve, nesse processo, associado a saberes científicos e técnicos – como os conhecimentos geográficos, urbanísticos, tecnológicos, ambientais, geológicos e climáticos – fortemente concebidos como portadores de parâmetros inquestionáveis que, nessa condição, balizariam científica e tecnicamente as decisões sobre o uso e ocupação do espaço e de seus recursos, sendo utilizados balizadores, aparentemente justos e neutros, da arbitragem de qualquer tipo de disputa territorial.
A dimensão política que preside todo processo de gestão e que se manifesta nas mais variadas situações (das disputas abertas em torno dos sentidos das ações programáticas, às diferentes formas de exercício do poder que se realizam exatamente a partir de sua ocultação numa forma técnica) foi, ao menos parcialmente, eclipsada nessa definição.
No âmbito dos estudos urbanos, como já discutimos em outro lugar[4], essa tendência à redução da gestão territorial aos processos institucionalizados e à forma técnica especializada, com o consequente esvaziamento da sua apreensão como processo histórico-social constituído por inúmeras mediações econômicas, societárias, políticas e institucionais, evidencia-se, entre outros casos, na reiterada identificação do termo com os setores estatais responsáveis pelo planejamento urbano e regional, os quais, longe de se aterem a funções técnicas destinadas à operacionalização e manutenção de decisões políticas elaboradas em outra esfera, são responsáveis por um variado elenco de atividades que se realizam como verdadeira “política em ato”[5], ensejando definições sobre sujeitos, relações, mecanismos de discussão e esferas de decisão altamente influentes na produção do espaço.
Nesse sentido, podemos afirmar que a redução da gestão territorial a um setor especializado de ação do Estado realiza pelo menos duas ocultações. Oculta a dimensão política da gestão, que está presente no próprio conhecimento científico e técnico que lhe serve de base (e nas suas formas de uso), nas relações que se dão no interior de cada setor de atuação do Estado, nas relações entre os diversos setores e nas variadas relações que atravessam e constituem o Estado ampliado, formado, como mostra Gramsci, pela sociedade política e pela sociedade civil. E oculta a própria constituição do campo da gestão territorial como um campo ampliado que, como tal, constitui o próprio cerne da ação estatal como um todo, objeto por excelência do Estado e, portanto, núcleo de onde derivam todas as demais políticas setoriais, cuja inter-relação sistêmica se orienta para a realização permanente da unificação territorial e populacional.
Deve-se observar, neste caso, que há uma importante tensão entre os sentidos de manutenção e os de mudança que se enunciam na definição do campo da gestão territorial. A rigor, a opção por uma conceituação política de gestão, e não técnico-administrativa, permite, no plano analítico, a redução do peso das práticas de mera manutenção e administração de decisões tomadas em um setor específico e a ênfase nos dissensos e conflitos que constituem os processos de gestão, como inevitavelmente confrontados com movimentos de mudança. Como lembra Fischer, “Toda a ação gestora […] orienta-se por princípios de mudança e desenvolvimento, seja de microunidades organizacionais, seja de organizações com alto grau de hibridismo e complexidade”[6]. E é importante lembrar que os setores especializados de gestão não lidam apenas com a mudança planejada. Ao contrário, são permanentemente tensionados e confrontados com possibilidades de mudanças fomentadas por forças hegemônicas e não hegemônicas atuantes nos processos de gestão e, ainda, com mudanças não necessariamente previstas ou fomentadas por nenhuma das forças, mas concretizadas como resultado histórico das relações e dos choques entre projetos e práticas diversos[7].
No caso da gestão territorial, pode-se dizer que o setor técnico especializado, responsável pelas mais visíveis “ações de gestão”, fica relativamente a salvo das instabilidades das disputas hegemônicas e das derivas históricas, quanto mais os componentes políticos dessas ações são dissimulados. A legitimação da gestão territorial como setor técnico especializado e a própria setorialização especializada da ação do Estado, como um todo, são mecanismos de grande eficiência, nesse sentido.
Eficientemente construída, a legitimação técnica do setor de gestão territorial tende a reduzir as instabilidades geradas pela modificação do peso e da posição das forças em relação no campo da gestão. Em outros termos, a possibilidade de máxima utilização política do setor depende, exatamente, de se fazer parecer que ele opera a partir de verdades inegociáveis, porque referendadas por leis e ancoradas em desígnios técnicos e científicos, e não em interesses e escolhas. Já a setorialização das ações do Estado, mais do que garantir a boa administração de cada setor, tende a garantir a boa administração geral dos propósitos hegemônicos que orientam a ação do Estado. O fracionamento de questões políticas por setores técnicos especializados induz à segmentação da intervenção social, possibilitando que a visão geral das ações, bem como sua conjugação seletiva, sejam reservadas às forças que operam a “grande política”[8].
O uso subordinado de outras políticas setoriais (como a política educacional, de assistência, de transportes, de saúde, ambiental, dentre outras) para a realização de controles populacionais e territoriais que, de certo modo, deixem o setor de gestão territorial a salvo de injunções indesejadas, constitui, assim, um recurso estratégico importante de fortalecimento de sua autonomia. Mas a eficácia desse recurso depende de que esse uso subordinado não seja totalmente visível, daí a importância de que os estudos críticos se ocupem desse desvendamento, identificando os componentes territoriais de políticas setoriais diversas e investigando seus prováveis nexos com propósitos mais amplos de controle da produção e do uso do território.
p
Legalidade e legitimidade na disputa da gestão territorial
O risco de monopolização da gestão territorial pelos grupos hegemônicos, pelos variados meios acima indicados, tem sido objeto de importantes discussões, ensejando proposições de formas de participação social que ampliem as possibilidades de democratização nesse âmbito. A partir desse debate, termos como gestão social ou gestão democrática do território vêm sendo empregados, na tentativa de indicar a necessidade de adoção legal de processos e mecanismos por meio dos quais os riscos de monopólio da gestão territorial sejam confrontados por condições de decisão sobre o território, implicadas com a participação política ampliada, capaz de envolver, regularmente, variadas forças e sujeitos. Nesse sentido, a efetiva democratização da gestão deve implicar a descentralização dos processos tanto de elaboração quanto de execução e acompanhamento de políticas públicas, pressupondo, portanto, um intenso processo de participação social na elaboração das leis e no exercício de formas de gestão que incidam sobre o próprio Estado, alterando sua configuração.
No entanto, é importante lembrar que as culturas políticas hegemônicas de cada país, as relações internacionais e as formas estabelecidas de organização político-administrativa dos Estados, dentre outros fatores, podem oferecer limites particularmente problemáticos a essa descentralização democrática, constituindo situações legais que, retoricamente, afirmam o primado participativo, mas concretamente colonizam as possibilidades reais de participação. Aqui, o legítimo pode discrepar completamente do legal, e a possibilidade de efetiva democratização da gestão parece requerer uma luta permanente na própria fronteira da lei, uma luta centrada na indagação pública contundente sobre os valores e prerrogativas sociais que devem referenciar as disposições e práticas jurídicas e institucionais, impedindo que elas se cristalizem como âmbitos autocráticos de gestão.
___________________________________
[1]. LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades: conversações com Jean Lebrun. São Paulo: UNESP, 1998.
[2]. CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes, 1998.
[3]. A referência de fundo, aqui, é a célebre definição de Estado de Max Weber (1999, p.525-526), como “associação política” que, “dentro de determinado território […], reclama para si (com êxito) o monopólio da coação física legítima”. O destaque da coação como meio específico do Estado, em Weber, não elimina a percepção de suas variadas e progressivas formas de composição com outros meios na constituição e expansão de novas e complexas funções de controle que conjugariam formas diretas e indiretas de coerção a formas de produção de convencimento, consenso etc.
[4]. OLIVEIRA, Floriano José Godinho de. Reestruturação econômica, poder público e desenvolvimento social: possibilidades de disputas e de recomposição do poder no território. Scripta Nova.Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: UB, núm. 245 (65)
ALGEBAILE, Eveline. Reestruturação setorial da política social e composição contemporânea do campo da gestão territorial. In Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica, v. 1. Barcelona: UB, 2008, p. 1-15.
[5]. GRAMSCI, Antonio Cadernos do cárcere. Volume 3. Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
[6]. FISCHER, Tânia (Org.). Gestão do desenvolvimento e poderes locais: marcos teóricos e avaliação. Salvador: Casa da Qualidade, 2002.
[7]. MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857- 1858 – esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo; RJ: UFRJ, 2011.
[8]. GRAMSCI, op. cit.
Referencias
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes, 1998.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: formação do Estado e civilização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População: curso dado no Collège de France (1977-1978). Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
| Para citar este artículo: Eveline Algebaile, Floriano José Godinho de Oliveira. Legalidade e legitimidade na produção histórica da gestão territorial. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.2 núm.5 Lo legal y lo legítimo. A Coruña: Crítica Urbana, marzo 2019. |